Potência
Leia na crônica de Fernanda Torres
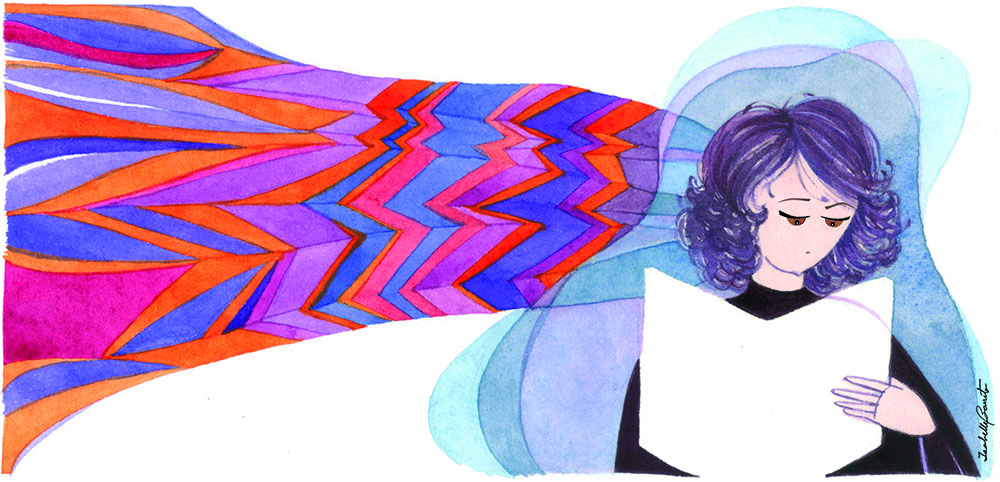
Eu estava em Nova York no dia em que Nixon renunciou. Hospedada com a família no Hotel Roosevelt, em Midtown, assisti pela TV em preto e branco a trechos do último pronunciamento do presidente deposto, seguido da imagem dele entrando no avião. Eu tinha 9 anos, não sabia necas de Watergate nem entendia patavina do que aquele americano esquisito falava. A estreia de O Homem de Seis Milhões de Dólares, com Lee Majors, me parecia bem mais significativa.
Era a primeira vez que a família viajava para o Primeiro Mundo. Um prêmio de teatro, com direito a duas passagens para Paris, possibilitou a travessia. Para não desperdiçar a chance, em 45 dias, rodamos 23 cidades da Europa e cruzamos o Atlântico de volta, para conhecer Manhattan e a Disney. Um desespero inesquecível.
O Brasil era um país isolado pela língua, pela geografia, pela economia e pela política. Só se atravessava a fronteira mediante depósito compulsório, uma espécie de fiança exigida pelo quartel operado com mãos de ferro pela ditadura militar. A ânsia dos Torres era justificada: desconfiávamos de que aquela poderia ser a primeira e a última vez na imensidão chamada Lá Fora.
O mundo diminuiu muito desde então. Hoje, os continentes já não parecem tão distantes, milhares de aviões cruzam os céus todos os dias, o turismo popularizou-se, a globalização pasteurizou os mercados e, não importa quão afastado de casa você esteja, sua persona continuará intacta, graças ao milagre ou à danação da internet.
Faz uma semana que bati a porta de casa a caminho da Europa. Tenho acompanhado as notícias de maneira bissexta. Lamentei a morte do Teori e do Carlos Alberto, acompanhei as teorias conspiratórias em torno do acidente, sei da guerra das facções criminosas nas prisões, das chuvas, mas confesso que tenho exercido o afastamento cirúrgico. Eu estava precisando.
Meu filho mais velho me deu um livro do Michel Onfray sobre Nietzsche, A Sabedoria Trágica, que um professor indicou para ele. Logo no prefácio, o filósofo francês fala sobre a Vontade de Potência, que eu entendo como o próprio impulso de existir, defendendo a ideia de que é muito mais fácil experimentá-la de mãos dadas com o hedonismo.
Ele tem razão. Sete dias bastaram para que o pessimismo crônico do último ano, a angústia paralisante, a ansiedade costumeira me dessem trégua. A tragédia continua igual, mas só por hoje, por favor, permita-me manter distância.
Meu filho menor tem a idade que eu tinha quando Nixon renunciou. Faz uns dias, ele assistiu pela TV daqui, com a mesma curiosidade desinteressada da minha infância, à posse de outro americano esquisito, Donald Trump. As coisas não estão melhores do que estavam naquele dia, no Hotel Roosevelt. Pelo contrário. Como diz minha mãe, o mundo sempre esteve para acabar. O botão vermelho do Armagedon ainda dá as cartas por aí, a violência no Brasil quer dar um salto qualitativo para pior, temos uma conta de vinte anos de estagnação para pagar, mas é preciso, de vez em quando, sumir, esquecer, sublimar, viver.
Ruminar a Vontade de Potência lendo a biografia da Rita Lee.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO



















