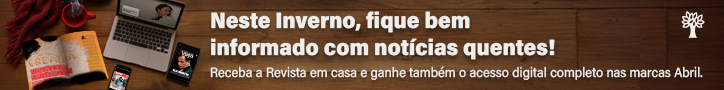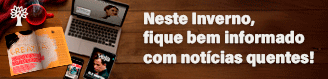Vidas negras importam e a sua cozinha também
Ninguém conhece a cozinha quilombola. O que isso diz do nosso País?

Eram os anos 60 e o orgulho negro invadia os Estados Unidos. A marcha do movimento Black Power deu uma rasteira em valores equivocados, criou uma nova sociedade e também parou para um café, na cozinha.
A chamada soul food (comida da alma) já existia, mas nunca aparecera num impresso, tampouco era motivo de orgulho. Escondia-se envergonhada nas cozinhas rurais do Sul do país.
Quando os senhores de escravos controlavam a ração dos africanos cativos nos EUA, a dieta era feita de pouco mais de dois quilos de amido por semana (fubá, arroz ou batata doce), um quilo de carne curada, salgada ou defumada (carne, peixe, porco, o que fosse mais barato) e uma jarra de melaço… só. Para não desmaiar na lavoura, o jeito era pescar, caçar, fazer hortas e criar animais de todo tipo, juntando o conhecimento africano com as técnicas aprendidas por seus carrascos.
Nas pequenas fazendas americanas, mestres e escravos comiam da mesma panela, mas em cômodos diferentes. Faltava um ingrediente fundamental: a liberdade de comerem o que quisessem.
A cozinha parruda e calórica que surgiu no campo logo depois da emancipação (1862) era preparada em casa ou distribuída pelas igrejas. Só nos anos 40, alguns restaurantes de soul food começaram a pipocar nas grandes cidades e levantar um tímido interesse, mas o termo para descrevê-la só surgiu em 1962 num ensaio de LeRoi Jones em defesa da cozinha afro-americana, quando um crítico gastronômico (branco, claro) cismou de dizer que ela não existia.
Foi a junção do batismo com o orgulho negro que fez a soul food explodir. Virou moda nos anos 60 e tomou cardápios de centros urbanos, por todo o país. Comê-la era um ato político, um jeito de afrodescendentes reclamarem sua parte no legado cultural norte-americano
E por aqui?
Passados 132 anos da abolição, a rica cozinha quilombola – a soul food brasileira – não teve batismo de impacto ou vingou em grandes cidades; ninguém sabe do que é feita e rasteja pelas sombras, em eventos culturais esporádicos ou cardápios temáticos de curto prazo, de chefs estudiosos.
Só na Minneapolis de George Floyd há mais de 20 restaurantes especializados em “comida da alma”. A maioria tem na marca os termos “mama”, “big mama” ou “grandma”. E faz sentido: são receitas caseiras, de comida em forma de abraço, passadas de mãe para filho. Contam histórias de sobrevivência e resiliência, tanto aqui quanto lá, e engana-se quem acha que essa luta foi só das gerações passadas.
Em 1987, entra em falência a Usina de Açúcar Novo Horizonte, que empregava grande parte da comunidade quilombola da região conhecida como Imbé, no Município de Campos. Os funcionários ficaram “seis meses sem receber, sem roupa para comprar no bazar, sem ambulância… nada”, vivendo do sacolão da igreja e doações. “Perdemos só uma criança, graças a Deus”, me conta Paulo Honorato, presidente da Associação Quilombola de Aleluia, Batatal e Cambucá. Com muita luta receberam parte da indenização e mais de 4 mil hectares de área agrícola da massa falida, distribuídos pelas 375 famílias assentadas.
A salvação, naqueles meses difíceis, ficou por conta do cantão de banana, receita ancestral quilombola que viu sua mãe preparar na casa de palha de pindoba, sopapo (pau a pique) e bambu entrelaçado, com piso de barro branco.
Paulo é casado com Dona Dalmeci, que além de big mama da gleba de Cambucá é a mestre-griô – título concedido aos membros mais antigos do quilombo, responsáveis pela passagem da cultura, na tradição oral.
Me contou que o cantão deve ser feito com a banana sempre verde, idealmente da variedade pera-maçã. Isso porque rende – é bem grande – e desmancha rápido. A banana é cozida no caldo de qualquer carne, porco ou frango (ou na água pura, como muitas vezes fizeram seus avós, já que proteína era um luxo raro) e vai sendo amolecida no fogo baixo, por uns 20 minutos. Sua versão do prato (em geral com carne seca ou linguiça) é famosa e obrigatória em qualquer festa ou reunião de Aleluia, Batatal ou Cambucá.
No Estado do Rio há 48 quilombos reconhecidos. Nos rurais, há sempre um “prato de resistência” feito com o que vem da terra e da região, explica Lucimara Diniz, quilombola de Custodópolis e presidente do IDANNF (Instituto de Desenvolvimento Afro Norte Noroeste Fluminense).
Um dos maiores quilombos do Estado do Rio (e muita gente daqui não sabe) é o da praia Rasa, em Búzios, que tem mais de 600 famílias e luta para preservar seu território, que sofre com a especulação imobiliária. Vem do mar, claro, a proteína de escolha, assim como no quilombo Alto da Serra, no distrito de Rio Claro, onde o forte são os mariscos. No quilombo do Campinho da Independência, a 20km de Paraty, o prato de resistência é feito do peixe assado em folha de bananeira com angu à “baiano” – nome da folha que tempera a farinha de milho, que lembra um espinafre e é também chamada de assa-peixe. Tanto no Campinho quanto no quilombo de Machadinha, em Quissamã, há restaurantes abertos ao público, em que todo o preparo é feito no forno a lenha, diante dos clientes.
A cozinha quilombola tem utensílios e técnicas próprias: “até o jeito de mexer a comida na panela deve ser respeitado e a colher de pau mais parece uma pá”, diz Lucimara. A seu ver, mandioca, feijão e mamão são muito comuns em todos os quilombos do Estado e preferimos os peixes às carnes. De resto, é cozinha feita de ervas, legumes, árvores frutíferas e animais que existem à volta.
Tudo que leio sobre a gastronomia do futuro está aí nessa cozinha sem agrotóxicos, local, sazonal, sustentável, fresca e de baixo impacto ambiental. Sobretudo, numa comida que dá sentido à vida da gente. Num amanhã de recursos tão escassos, a palavra-chave é sobrevivência; e de sobreviver o afrodescendente entende.
O que não falta é “alma” na soul food brasileira. Está mais do que na hora da cozinha quilombola marchar pelas ruas e virar hashtag.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Psiquiatra fala sobre “bloqueio de emoções” citado por Preta Gil
Psiquiatra fala sobre “bloqueio de emoções” citado por Preta Gil Liesa modifica o modelo de julgamento para o Rio Carnaval 2026
Liesa modifica o modelo de julgamento para o Rio Carnaval 2026 Rio terá escritório da Fifa em Botafogo para organizar Copa do Mundo 2027
Rio terá escritório da Fifa em Botafogo para organizar Copa do Mundo 2027 Rio e Niterói aguardam decisão sobre Pan de 2031 em reta final de campanha
Rio e Niterói aguardam decisão sobre Pan de 2031 em reta final de campanha O que disse Gilberto Gil quando soube da morte da filha Preta Gil
O que disse Gilberto Gil quando soube da morte da filha Preta Gil