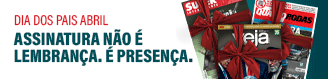Meu pai não era de superlativos. Quando um de nós dizia “eu amo bolo de chocolate”, ele completava: “você gosta muito de bolo de chocolate, mas amar é outra estória…”. Passei muito tempo sem entender por que não podia amar tanto as coisas, até uns anos atrás.
Quem foi fisgado pelas redes sociais sabe que o amor anda descalço, pelado e correndo, por todo lado: “amoooooooooooo!, amo demaaaaais!”. Ama-se roupas, horrendas ou bonitas, tik toks, piadas, amigaaaaaaaa!, pessoas que mal se conhece, prédios, paisagens e até receitas de bolo de chocolate.
Acho que amei muita coisa, ou talvez meu coração tenha diminuído. O que sobra de amor vai para poucos, um punhado de gente e outro tantinho de coisas. Quem faz a peneira é minha moleira que, de tão cheia, só permite que boie uma nata bem fina de afetos.
Minha mãe não cozinha. Espremi bastante a cabeça, até enrugar a testa, tentando lembrar de alguma cena diante do fogão. Para não dizer que não houve, tinha uns 15 anos e num fim de tarde fez umas torradas com manteiga e parmesão, no forno, que achei deliciosas até porque tão inesperadas. Mas ela frequenta aqueles lados?, pensei.
Como dona de restaurantes, sei que ninguém compete com comida de mãe. O que mais ouço é: “Ah! Minha mãe fazia um ragu, uma polenta, um bife, uma massa, um peixe assado… o melhor do mundo!”. O diabo do melhor do mundo é que o mundo de ninguém é igual. Mães são pessoais e intransferíveis e sua cozinha (ou a falta dela), também.
Num gráfico de vida, comida de mãe se valoriza bem mais que Ibovespa. Na memória de quem tem mãe que cozinha, ficam lá umas comidas que nem eram tão importantes na infância, mas a distância, a infrequência e a saudade vão fazendo o prato crescer no peito até chegar no ponto do “melhor do mundo”.
Repito, a minha não cozinha e ainda por cima é excêntrica. Nunca abriu um cardápio na vida e prefere fazer seu pedido à primeira pessoa que encontra no restaurante e, de preferência, antes de se sentar. O pedido, vejam bem, está na sua cabeça e não no menu. Tudo que come deve ser absolutamente cozido ou fritíssimo, até que não se possa distinguir uma massa de um purê, ou um filé de uma sola de sapato. Gosta mesmo é de restaurante chinês, mas nem precisa ser fino. Basta ter doces muito doces e acres muito acres, que ela fica feliz. Mas o momento que mais aguardo, sempre, é o fim da refeição, em que ela abre o biscoito da sorte e diz: “esta não é minha sorte. Me traz outra, faz favor!”
Chega o Dia das Mães e tento, até por conta do meu trabalho, fazer da torrada com manteiga e parmesão uma referência afetiva, a tal “melhor do mundo!”, mas desconfio que não chega ao pódio, nem nas próximas encarnações.
A questão é que minha mãe é um gênio. Doutora em arqueologia e geologia, antropóloga, autora de uns 20 livros, pesquisadora sênior do CNPq, portadora da ímpar “legion d’honneur”, e tantos outros títulos que me convenceram, desde a mais tenra idade, a jamais almejá-los, a não ser que quisesse destruir de vez minha autoestima.
O recheio que minha mãe me deu não é do tipo que aumenta a barriga – a minha cresce a despeito dela. Foi recheio de alma, de sua cultura infinita, do apreço à ciência, do senso crítico, da vontade de ferro. Comi muito disso.
Como dizia meu pai “amor é outra estória…”, e a história da minha mãe é essa.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Engarrafamento do bem: Corrida da Ponte leva 8000 atletas para a pista
Engarrafamento do bem: Corrida da Ponte leva 8000 atletas para a pista RJ vive nova era nos transplantes de órgãos com avanços da Rede D’Or
RJ vive nova era nos transplantes de órgãos com avanços da Rede D’Or Resort em Búzios aposta em sofisticação no destino queridinho dos cariocas
Resort em Búzios aposta em sofisticação no destino queridinho dos cariocas “Invertida”, com Janaína Torres: “Desprazer é ver pessoas compradas”
“Invertida”, com Janaína Torres: “Desprazer é ver pessoas compradas” Pedro Pascal e Chris Evans disputam o coração de Dakota Johnson
Pedro Pascal e Chris Evans disputam o coração de Dakota Johnson