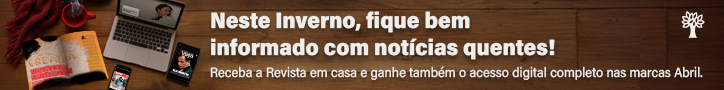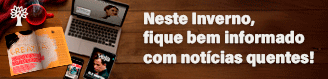Na torcida pelo espírito das arquibancadas
Crônicas rodrigueanas e música de Caetano douram a fé nos carnavais filiados à graça do estar-junto

DJ na pausa do café, arquibancada vazia, os velhos colegas emplacam a prosa:
“O tal de VAR vai tirar o nosso emprego”, queixa-se Almeida.
“Bobagem. O videoteipe continua burro, sem imaginação. Aí a gente entra em campo”, o amigo da gravata borboleta.
“Sei não. Os idiotas da objetividade armaram-se de tecnologia. Às vezes o jogo parece uma ultrassonografia intermitente. Já basta o parador que eu pego todos esses anos”.
“Falar nisso, como anda Irajá?”
“Não muda de assunto. A coisa está feia pro nosso lado”.
“Calma, Almeida. Complexo de vira-lata não combina com você. Sem a gente, o futebol periga virar, como dizia o criador, uma esterilidade bonitinha. Uma fórmula matemática. Uma interminável reta sem vista pro mar”.
“Não exagera… Mas você tem razão: nenhuma devassa eletrônica ameaça o nosso pacto com o imponderável, a nossa habilidade de resguardar a mística do futebol, seus dramas, sua poesia, suas cores mais vivas”.
“Esse, sim, é o Almeida velho de guerra, que tantas aprontou com o meu Tricolor”.
“Olha quem fala. Nesse campeonato é você que anda impossível”.
“Podemos dizer que tenho me mantido ocupado… O preocupante, meu amigo, não é a radiografia asséptica do VAR. Sua precisão computadorizada jamais alcançará os dialetos mágicos do futebol. Nosso ganha-pão está garantido. Eu me preocupo, Almeida, é com a concorrência da realidade”.
“Como assim?”
“Tenho visto muita coisa bizarra por aí, acima da média. Daqui a pouco ninguém mais se impressiona com o sobrenatural”.
“Bom, o jeito é torcer pra Era de Aquário virar logo esse jogo. De bizarrices, cuidamos nós, né?”
“Lógico. O que seria dos botequins sem as nossas jogadas?”
“Melhor você se poupar para a reta final de Brasileiro”.
“Não agoura, Almeida…”
O papo imaginário, singela deferência a Nelson Rodrigues, inspira-se em aforismos e num par de personagens folclóricos do cronista. Representam a mão invisível dos deuses da bola, a caligrafia apaixonante do inesperado contra as estatísticas infalíveis. Neste confronto, a dramaturgia nunca conheceu derrota.
Debruçado sobre ritos, mitos, paixões da galeria futebolística, Nelson criou o Sobrenatural de Almeida para justificar infortúnios inconcebíveis que alvejassem o Fluminense do coração. Já as vitórias épicas ou insólitas – outra face da mesma moeda narrativa – tinham a assinatura de Gravatinha. Essas forças cósmicas tingiam crônicas dedicadas ao Tricolor das Laranjeiras. Mais que isso, expressavam o indefectível pacto do futebol com o imponderável.
Nelson partiu há 40 anos, em dezembro de 1980. Faz uma falta tremenda. Não só pela consagrada originalidade que ajudou a modernizar o teatro brasileiro e legou peças como “Vestido de noiva” (1943), “Álbum de família” (1946), “O beijo no asfalto” (1960) e “Toda nudez será castigada”. Faz falta não só pelo tino provocador, vanguardista, estendido da dramaturgia à literatura. Nelson também faz falta por depurar a alma do futebol e dele extrair as melhores histórias, acima da linearidade, do óbvio, da mesmice, da temporalidade hegemônica. Uma antítese do VAR.
Abstraídos os contextos históricos, culturais e midiáticos, nenhum outro capturou com tamanha maestria as feições míticas e as dicções operísticas contidas no universo simbólico e social do futebol. Não raramente o aproximava de uma tragédia grega, para a qual confluíam ditames morais, existenciais, estéticos, psicológicos. Seus banquetes narrativos extrapolavam o jogo, o gol, o placar. Deles se fartam paladares literários e resenhas esportivas.
Um desses incontáveis banquetes remonta à entrada decisiva de Zizinho no Brasil x Paraguai disputado em novembro de 1955. Para o dramaturgo, a atuação magistral, consumada antes mesmo de o jogador juntar-se aos colegas, mostrava-se um premonitório antídoto à “esterilidade bonitinha” do primeiro tempo:
“Eis a verdade: – a partir do momento em que se anunciou Zizinho, a partida estava automática e fatalmente ganha. (…) Ele ganhou a partida antes de aparecer, antes de molhar a camisa, pelo auto-falante, no intervalo. Em último caso, poderá jogar, de casa, pelo telefone”. (Trecho da crônica Craque sem idade, uma das selecionadas por Ruy Castro na coletânea À sombra das chuteiras imortais.)
A peleja terminaria 3 a 0 para os brasileiros. Ou melhor, para Zizinho. Num “show pessoal e intransferível”, o craque fez dois gols e deu o passe para Escurinho marcar.
Alguns diriam que o estilo literário, algo fantasioso, de Nelson não resistiria ao Big Brother atual das partidas, dissecadas num show de imagens e números. Improvável. Seria como decretar que os monstros da seleção de 70, por exemplo, brilhariam menos no jogo mais corrido e espremido, consequência do avanço atlético.
O brilho de Nelson e desses bambas é imortal não só porque eles habitam a memória afetiva e contemplam o apetite pelo transcendente. Mas porque se banham numa dimensão poética. Irradiam componentes imperecíveis, e invisíveis à primeira vista. Por isso estão sempre dois ou três lances à frente.
O cronista perfurou a superfície das proposições técnicas e táticas. Atribuiu o fracasso contra os uruguaios em 50, por exemplo, a um despreparo psicológico. Uma espécie de doença autoimune. Éramos pernas-de-pau emocionais. A Copa teria escorrido por um complexo de inferioridade, não por obra do Sobrenatural.
Àquela altura embarcávamos na construção cultural do “país do futebol”. Faltava curar a ansiedade e o déficit de autoestima. Enquanto o primeiro título mundial, em 1958, não veio legitimar o slogan identitário, o complexo de vira-lata cunhado por Nelson popularizava-se sob a batuta da imprensa. Frequentou vários textos do escritor, como neste pedaço da crônica publicada na revista Manchete Esportiva em 7 de abril de 1956:
“No jogo Brasil x Uruguai entendo que um Freud seria muito mais eficaz na boca do túnel do que um Flávio Costa, um Zezé Moreira, um Martim Francisco. (…) Pois bem: — teríamos sido campeões do mundo, naquele momento, se o escrete houvesse freqüentado, previamente, por uns cinco anos, o seu psicanalista”.

Dois anos depois, Nelson tornava a escalar o divã numa profética coroação de Pelé. O cronista não deixaria escapar a majestade insinuada na vitória do Santos sobre o América (5 a 3), pelo torneio Rio-São Paulo, em fevereiro de 1958. O Maracanã curvava-se aos quatro gols e outras maravilhas do garoto de 17 anos prestes a fazer história nos gramados suecos. Assim avalizou Nelson em A realeza de Pelé (Manchete esportiva, 8/3/1958):
“O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável: — a de se sentir rei, da cabeça aos pés. Quando ele apanha a bola e dribla um adversário, é como quem enxota, quem escorraça um plebeu ignaro e piolhento”.
A arquibancada também era um “estado de alma” aclamado pelo escritor. Uma matriz de devoções e delírios em busca do êxtase. Uma incandescente miscigenação: “Se duvidarem, encontraremos um mandarim, ou um esquimó, entre os que sonham com as nossas vitórias”, divagou Nelson, num dos textos reunidos em O profeta tricolor: cem anos do Fluminense: crônicas.
A pluralidade dionisíaca das torcidas – seus rituais, seus excessos, seus dramas, suas glórias – aglutina-se indiferente às composturas e ao ridículo. Reforça o laço vital entre os fiéis e o time cultuado, que se renova a cada “berro da torcida”.
Faminto de interação, Caetano Veloso imaginou calor semelhante ao conclamar os espectadores em casa a entoar o refrão de A luz de Tieta no show do sábado passado. A beleza das músicas e algumas doces lembranças aliviavam o palco solitário. Órfão circunstancial da plateia, ele acalentava um milagre de Natal: “Já pensou? O pessoal dentro de casa, na sala, aí canta da janela. Estou só imaginando isso. Já pensou que bacana se acontece? Muito bom. Aí [o pessoal] puxa A luz de Tieta no prédio, no bairro, na rua, pela janela. Tomara, né?”.
As palavras de Caetano perseguiam a dádiva de todo artista, inclusive dos homeros da bola rodrigueanos: fundir-se à galera, e viver os pequenos carnavais filiados à graça do estar-junto. Reencontrá-los é um sonho ardente. Um sonho de todos nós.
Quando o pesadelo se for, e 2020 cicatrizar por completo, as arquibancadas expurgarão o berro artificial dos DJs. Inundarão o berro autêntico da mistura, dos abraços, das liturgias catárticas feitas de som e de silêncio. Liturgias transbordadas de vida, sorridentes às forças dramáticas e sobrenaturais.
Oportunamente relembrada por Caetano na apresentação natalina (YouTube), a linda Noite de cristal ilumina a esperança de dias mais leves, harmônicos, calorosos. Dias de outras cores, como pedem os versos da canção reproduzidos abaixo:
Noite prisma
Momento total
O mundo cisma
Mas eu miro o teu cristal
E vejo e peço
Dias de outras cores
Alegrias para mim
Pra o meu amor
E meus amores
Como torceu Caetano, tomara!
___________________
Alexandre Carauta é jornalista, professor, doutor em Comunicação, mestre em Gestão Empresarial, especialista (MBA) em Administração Esportiva, também formado em Educação Física.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Especialista explica quais procedimentos foram feitos no rosto de Anitta
Especialista explica quais procedimentos foram feitos no rosto de Anitta Filho de Malu Mader critica Juliana Marins: “Não tenho pena nenhuma”
Filho de Malu Mader critica Juliana Marins: “Não tenho pena nenhuma” Capricorniano foge da festa? Rodrigo Simas admite preguiça de fazer lista
Capricorniano foge da festa? Rodrigo Simas admite preguiça de fazer lista Bonecas Labubu movimentam bilhões e ganham versão genérica na Saara
Bonecas Labubu movimentam bilhões e ganham versão genérica na Saara Farmácias do Rio são alvo de operação sobre uso de dados de clientes
Farmácias do Rio são alvo de operação sobre uso de dados de clientes