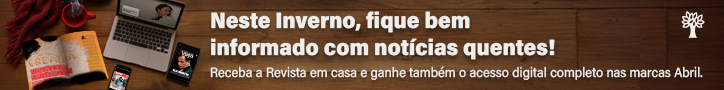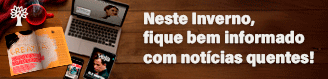O caminho para o futebol seguir os ventos democráticos
Debate sobre clube-empresa precisa impulsionar amadurecimento de dinâmicas políticas e trabalhistas

A eleição americana entoou recados eloquentes. Envolvem desde o providencial freio ao curso autocrático até o desafio da integração nacional, chamuscada por bravatas incendiárias e por feridas abertas com a navalha do populismo obscurantista. Como se prestassem um tributo ao cineasta Fernando Solanas, símbolo da resistência à ditatura militar argentina e a práticas imperialistas, levado pela Covid no sábado passado, as urnas reverberaram o basta histórico aplicado pelas três principais redes de TV dos Estados Unidos à desinformação naturalizada no microfone oficial. Os ventos mudaram. Convém não desperdiçar as chances de acompanhá-los, inclusive no meio esportivo.
A retomada das investidas parlamentares no clube-empresa pode aprofundar um debate – talvez mais rico e necessário – sobre a democratização do futebol profissional no país. “Sem avanços nas relações de poder e trabalhistas, seguiremos com as deficiências estruturais que mantêm os clubes deficitários. A simples conversão do modelo associativo para o empresarial não resolve isso. Basta lembrar casos como os do Vitória, Bahia e Figueirense. Também na Itália, na Espanha, no Chile, e em outros países, muitos clubes transformados em sociedades anônimas não sanaram problemas financeiros e gerenciais. Acabaram cheios de dívidas e várias vezes ligados a fraudes”, observa o jornalista e pesquisador da Uerj Irlan Simões, organizador do livro “Clube empresa: abordagens críticas globais às sociedades anônimas no futebol” (Corner, 2020).
O alerta revela-se um contraponto ao coro salvacionista em torno da tabela entre o futebol e o modelo S.A. Sustentam a cautela do pesquisador experiências como as da Vitória S.A., criada em 1998 sob a onda de uma modernização administrativa à europeia. Em vez do milagre econômico, o clube asfixiou-se, sete anos depois, num balaio de dívidas para recomprar as ações vendidas ao grupo de investimentos. De quebra, acabou rebaixado à Série C. “Vitória S.A. acumula um passivo na casa dos R$ 70 milhões”, assinala Irlan.
Frustrações semelhantes conheceram outros tantos clubes desfalcados de condições para transformar numa doce sinfonia o canto da sereia empresarial. Não raramente saem dessas incursões mais endividados do que entraram. Lapsos político-administrativos e particularidades culturais afastam a realidade do mundo novo prometido.

Há muito clubes do futebol brasileiro afogam-se em dívidas. Superaram R$ 8 bilhões no ano passado, calcula levantamento do Itaú BBA feito com 25 organizações esportivas. Só as trabalhistas consomem, em média, pouco menos da metade da receita anual. No Fluminense, campeão de passivo trabalhista, quase empatam com os R$ 250 milhões arrecadados em 2019.
A virada não vem dos refinanciamentos de plantão ou de casuísmos embrulhados como bote salva-vidas, tampouco de compulsórias mudanças na natureza associativa dos clubes. Não vem da vitória corporativa num Fla-Flu reducionista entre o cartola despreparado, paneleiro, e o executivo calculista imune a politicagens, como se paixão e competência não pudessem, ou não devessem, caminhar juntas. A difícil virada, acredita Irlan, implica um aperfeiçoamento estrutural, gerencial, legislativo e político:
– Acabar com os ciclos deficitários é uma tarefa difícil, complexa. Passa por gestões mais competentes e democráticas, capazes de dissolver oligarquias instaladas em boa parte dos clubes. Isso não depende da transformação em empresas. É preciso também rever normas como a compensação integral em rescisões contratuais. Esse desequilíbrio criou um sistema de privilégios para muitos jogadores e treinadores, que vivem de multas rescisórias – aponta o integrante do Laboratório de Estudos de Mídia e Esportes (Leme/Uerj) e apresentador do programa Na bancada. Ele completa:
– Os Projetos de Lei referentes a clube-empresa podem alavancar correções legislativas para equilibrar melhor as relações trabalhistas entre clubes e jogadores.

Embora plausível, o caminho sugerido pelo pesquisador não necessariamente encontrará o destino do par de projetos que se esbarram no Senado: PL 5.082/16, encaminhado pelo deputado Pedro Paulo (DEM/RJ), sob a bênção do presidente da Câmara, Rodrigo Maia; e PL 5.516/19, do senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG). A dobradinha indica as ambições políticas e econômicas embutidas nas reciclagens do antigo prontuário. Seria ingênuo assegurar que coincidem com as necessidades socioeconômicos das células-mater do futebol nacional. Seria pretensioso ungi-las com o poder da cura para fragilidades crônicas dessas associações seculares. Nunca é simples assim.
Apesar das diferenças no varejo, como as relativas à tipificação da sociedade anônima para o futebol (SAF), costura-se no atacado uma fusão das propostas. O casamento de interesses não garantiria, contudo, nem a trilha de tijolos dourados rumo ao sucesso econômico e esportivo, nem uma unidade redentora às assimetrias do mercado da bola no país. “É preciso, antes de tudo, reconhecer a heterogeneidade do universo composto por mais de 850 clubes profissionais, com variados portes, culturas, condições socioeconômicas. A CBF e o governo deveriam calibrar as exigências fiscais e trabalhistas de acordo com os diferentes estratos. Esses ajustes seriam mais importantes do que a transformação obrigatória do clube em empresa”, avalia o advogado Luciano Motta, autor de “O mito do clube-empresa” (Sporto, 2020), resultado de sete anos de pesquisa.
Para Luciano, a revitalização financeira e esportiva dos clubes parte de um diagnóstico cuidadoso, técnico, dos “problemas estruturais que os tornam deficitários e aumentam o risco até de modelos empresariais bem elaborados”. À meticulosa análise, propõe o especialista, seguiria-se um debate amplo para desenvolver soluções despidas de imediatismo, oportunismo, clientelismo:
– Essas soluções precisam ser construídas de dentro para fora, com a participação dos clubes e dos torcedores, com transparência. Senão, tendem a carecer de legitimidade e a se tornarem menos viáveis – pondera Luciano.
Desde os anos 70 a conversão empresarial é cogitada como tábua de salvação. A ideia frequentemente recrudesce sob o adubo de conveniências particulares. Não é raro estarem desalinhadas das partituras sociais, históricas e simbólicas dos clubes, sobre as quais se sustentam os valores de marca, as reputações e paixões amealhadas – fontes primordiais também de consumo.
O descompasso explica parte do insucesso comum a parcela nada desprezível desses empreendimentos. Não deve presumir a impossibilidade de uma governança compatível com o figurino profissional do futebol-espetáculo e com os predicados socioculturais de associações centenárias. Convertê-las em sociedades comerciais ou modelos afins não parece imprescindível ao amadurecimento político-administrativo, ou seja, ao cultivo de gestões eficientes, íntegras, democráticas, oxigênio do ambiente de cooperação e confiança necessário aos investimentos.
Profissionalizado no Brasil desde a década de 40, o futebol manteve-se formalmente preso a gestões amadoras por quase meio século. Contradição alimentada por distorções da genética associativa dos clubes, por táticas protecionistas e por leis impermeáveis à administração profissional, remunerada. A possibilidade de adotá-la chegou só em 1993, com a Lei Zico. Desfigurada nos anos seguintes, abriu caminho à Lei Pelé, de 1998. Veio extinguir o passe, valor ao qual estava condicionada a transferência do atleta mesmo depois de terminado o contrato.
O Brasil alinhava-se à Lei Bosman, de 1995, pela qual jogadores ficaram livres para, expirados os compromissos contratuais, negociar com quaisquer clubes da comunidade europeia. A emancipação despertou, no entanto, efeitos colaterais opostos ao objetivo original. Sob a batuta liberal, o poderio financeiro de medalhões europeus passou a dificultar ainda mais a retenção de talentos dos clubes periféricos e inflacionou as transações. Um avesso do reequilíbrio de riquezas imaginado, e desejável.
Celebrada como uma ponte ao pote de ouro, a Lei Pelé originalmente obrigava as associações esportivas a virarem empresas. Assim já era feito, sob parâmetros distintos, em Portugal, na Espanha, Itália, França, na Inglaterra. Por aqui, honrou-se a tradição de descumprir o escrito.
À margem do processo normativo, a maioria dos clubes desprezou a obrigatoriedade. Uma mudança na lei a tornaria plenamente facultativa em 2011. Cerca de cem associações brasileiras decidiram segui-la. Não se tem notícia de que arremataram o pote de ouro. Irlan argumenta:
– Para ser bem-sucedido, sustentado, o modelo empresarial precisa alinhar-se a diversos fatores, como a anuência dos dirigentes à autonomia dos gestores profissionais e adequações macroeconômicas e culturais. Além disso, é preciso corrigir a percepção ilusória de que a mudança da natureza jurídica vai criar uma tendência superavitária. Na Inglaterra, por exemplo, o modelo empresarial foi imposto para conter o comprometimento financeiro das pessoas à frente da atividade do futebol, que já era concebida como deficitária lá nos primórdios.
Velhas e novas divergências sobre tal conversão, proporcionais à sua complexidade e ao carrossel de interesses em jogo, convergem para, mais do que um consenso, um desafio elementar: democratização das dinâmicas políticas e decisórias, mais abertas às participações coordenadas de federações, clubes, legisladores, torcedores. Desses ventos se impulsionam grandes mudanças.
____________________________
Alexandre Carauta é jornalista e professor, doutor em Comunicação, mestre em Gestão Empresarial, especialista em Administração Esportiva, formado também em Educação Física


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Bonecas Labubu movimentam bilhões e ganham versão genérica na Saara
Bonecas Labubu movimentam bilhões e ganham versão genérica na Saara Fundão vai fechar? Proposta quer transferir aulas para o Centro do Rio
Fundão vai fechar? Proposta quer transferir aulas para o Centro do Rio Rubens Menin investe €60 milhões no Douro e quer retorno de 20% ao ano
Rubens Menin investe €60 milhões no Douro e quer retorno de 20% ao ano Romário celebra tradição junina com 600 convidados em festa na Barra
Romário celebra tradição junina com 600 convidados em festa na Barra Jubarte com característica única volta aos mares do estado do Rio
Jubarte com característica única volta aos mares do estado do Rio