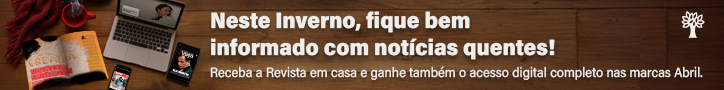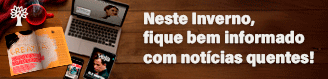Maria Ribeiro: “‘Independência ou morte’ virou frase sem significado”
Para atriz e escritora, tornar-se independente talvez seja escolher do que, ou de quem, não abrir mão; de quem continuar dependente

Primeiro, eu fiquei independente dos meus pais. Isso, com uns 10 anos de idade. Depois, ali pelos 20 e poucos, eu fiquei independente do meu irmão. Em seguida — socorro!, ou finalmente!, não sei qual exclamação usar —, eu fiquei independente do casamento (pelo menos desse que a gente conhece, do juntos pra sempre, durante o dia inteiro).
Nenhum grito foi fácil e nenhum veio rápido, e ainda hoje tenho dúvidas sobre se tanto Freud vai dar no Nirvana ou na Vida Adulta, ela mesma (se é que isso existe, ou se faz parte de alguma estrelinha invisível que a gente se presenteia pra não doer tanto).
De qualquer forma, estou aqui: dentes, músculos e camiseta vermelha, pronta pra um setembro-quase-outubro e para uma eleição quase democrática. Às vezes, quase é mesmo tudo o que temos: a felicidade possível, o real, o Deus dos cumprimentos de bom-dia no elevador.
Escrevo esse texto no dia 8 de setembro, um dia depois das “comemorações” (aspas óbvias, já que o presidente usou nosso dinheiro pra fazer comício a favor de sua reeleição) do aniversário de 200 anos das palavras de dom Pedro I.
Proferida com mais ou menos pompa — dependendo do livro de história —, e tendo como cenário as margens do riacho do Ipiranga (bairro paulistano pelo qual nutro especial carinho), “Independência ou morte” virou uma frase que, de tão gasta e repetida, perdeu qualquer significado mais consistente. A própria imagem que associamos ao quadro de Pedro Américo talvez não passe de uma fake news avant-garde.
É serio: até hoje não podemos afirmar se a cena épica e heroica de fato existiu, ou se é mais um item pro serviço de atendimento ao consumidor das escolas católicas dos anos 80.
“Que a grande independência talvez seja escolher do que, ou de quem, não abrir mão. De quem continuar dependente”
De qualquer forma, a gente é bicho de símbolo: precisamos de datas, signos, rituais. Eu, pelo menos, preciso — e gosto. E celebro — despedidas, inclusive. Eu lembro bem dos momentos em que, digamos assim, me separei de Portugal (que, no meu território particular, era formado, não pelo país, mas por amores e casas, e, em alguns casos, pelos dois ao mesmo tempo).
Foi assim em 1999, em 2006, 2017, e é assim sempre que dou um passo em direção ao presente, como agora. Quando atualizo a bagagem e reorganizo a estante.
Quem segue comigo a partir daqui? Quanto do que fui ainda preciso ser pra ter quem eu era no lugar certo? O que permanece? O que pode virar álbum? Texto? Lixo? Avisos feministas no WhatsApp?
Nesta semana, meu caçula resolveu se desfazer de tudo o que poderia sugerir que um dia ele foi criança. Como sua infância aconteceu anteontem — e eu estava lá de pulseirinha vip —, as fotos ainda estão no rolo de câmera deste ano de 2022, de modo que é preciso deixar claro pra todos os envolvidos que mês passado faz parte de outro século, outra era, outra vida. Que um ciclo ficou pra trás, tipo grito no Ipiranga.
Entendo. Também já fiz 12, e, depois, 20, 30, 40, e — não sei se isso é bom ou ruim — sigo, vez ou outra, precisando cortar o cabelo e mudar o sofá de lugar pra marcar algumas mudanças com carimbo de letra maiúscula, ou caneta iluminadora. Pra lembrar de não ter medo. De achar bom ficar diferente, não ser o que era, correr algum risco. Risco, inclusive, de continuar contando com a assistência, por exemplo, da psicanálise, de chocolates e de pessoas favoritas, não necessariamente nessa ordem.
Que a grande independência talvez seja escolher do que, ou de quem, não abrir mão. De quem continuar dependente. Mesmo que, pra isso, seja preciso subir num cavalo que nunca existiu.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO

 Escalação de ator que interpreta filho de Odete Roitman recebe críticas
Escalação de ator que interpreta filho de Odete Roitman recebe críticas Light celebra 120 anos iluminando o Rio de Janeiro com energia
Light celebra 120 anos iluminando o Rio de Janeiro com energia Eduardo Paes e príncipe William: figurinos “combinados” em Londres
Eduardo Paes e príncipe William: figurinos “combinados” em Londres Prefeitura do Rio patrocina campeonato de futebol de juízes
Prefeitura do Rio patrocina campeonato de futebol de juízes Imperatriz fortalece ações sociais com novas atividades gratuitas
Imperatriz fortalece ações sociais com novas atividades gratuitas