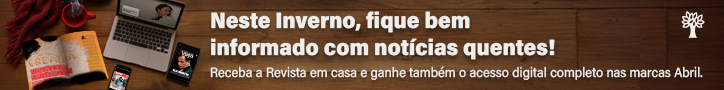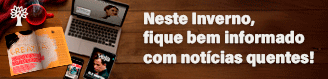Maria Ribeiro: A consciência da finitude
"Não tenho tido coração para violência. Não agora. Eu quero ver gente se beijando, e nem precisa ser amor de verdade", escreve a atriz e cronista

O fechamento da livraria da sua infância, a partida de um médico que fez a diferença para milhares de vidas — incluindo a sua —, um encontro virtual com Heloísa Buarque de Hollanda, uma varanda debruçada sobre o rio Rainha, dois ou três funks românticos na voz da Luana Carvalho, nossos velhos vacinados, a mais recente edição do Big Brother Brasil: “Escolhe a balinha”, caro leitor.
Escrever uma coluna mensal é quase tão desafiador quanto ficar à mercê dos cardápios de streaming — o perigo mora nos excessos, já dizia alguém. Optar é dizer não. Exige coragem, matemática e algum pragmatismo. Quantas cidades novas ainda terei o prazer de desvendar? Quantas pessoas e suas histórias de vida? Quantos idiomas, autores, filmes, palavras, idiossincrasias, manuais de pequenas neuroses?
E para onde jogar luz na hora de acordar? Por qual caderno do jornal começar? Ao lado de quem? Com quais filtros? No mar de informações no qual estamos submersos, a correnteza é quase sempre imperativa, mas até que ponto ela te representa? E te dá vontade de comungar?
Vai fazer um ano. Um ano sem dançar, sem ir ao cinema, ao teatro, sem assistir a um show no Circo Voador, esbarrar em um desconhecido, dividir cigarro, chope, calçada. Doze meses. Mais de 300 dias de abstinência do mundo de antes. No horizonte, as sonhadas vacinas que nos darão o direito de continuar jogando. Agora não vale piscar.
Cada parágrafo, cada bola dividida, cada assistência, cada mensagem de WhatsApp, cada estação de rádio, cada fagulha de energia. Tudo isso junto desenha cada tijolo da estrada amarela (que cumprimos, de preferência com os sapatos brilhantes da Dorothy) entre o primeiro e o último choro.
Não estou vendo o BBB, caro irmão — ou irmã — do mundo distópico de 2021. Quer dizer, não estou vendo entre aspas, porque o fato de não apertar o botão da televisão naquele bat-horário e naquele bat-canal obviamente não me impede de acompanhar, através das redes sociais e dos jornais, as discussões inflamadas em torno de seus personagens. Não estou em Marte — tampouco compactuo com qualquer hierarquia a respeito de programas de TV. Já assisti a realities incríveis e a séries “de arte” que considerei absolutamente pretensiosas e enfadonhas. A questão aqui passa longe do formato. Babu e Sabrina que o digam.
O ponto é que, atualmente, não sei se por ter passado dos 40, ou por estar mais sensível diante da realidade pandêmica, não tenho tido coração para violência. Não agora. Eu quero ver gente se beijando, e nem precisa ser amor de verdade.
Foi Gonçalo M. Tavares, o escritor português, quem disse uma vez, em uma entrevista, praticar constantemente um exercício de consciência da finitude que o permita aproveitar cada segundo desse rolê aqui. Assinar embaixo de cada movimento “aquele que vai morrer”, disse ele. “Hoje vai à Urca jantar com Miguel” — e o resto da frase é minha, antes que alguém pergunte. E, assim, aproveita-se a Urca, o Miguel, a sorte de poder jantar, locomoverse e olhar os barcos, o céu e admirar aquele pedaço bonito da nossa Guanabara.
Em dezembro, perdemos para a Covid-19 um dos maiores médicos brasileiros: Ricardo Cruz. Ele era especialista em cirurgias de crânio e pescoço, e também coordenador científico do Hospital Samaritano, onde criou o grupo Humanidades, que promovia encontros entre acadêmicos com o objetivo de integrar à medicina temas da filosofia, antropologia e sociologia.
Quando operei minha cabeça com ele, em 2014, tive, como poucas vezes havia experimentado, a nítida sensação de estar diante de um anjo. Quero deixar aqui registrado como o afeto também é potente. Ricardo daria uma coluna inteira, assim como a Timbre, livraria na Gávea que conheci menina e que encerrou sua trajetória comovente no último dia 31, quando fomos, meu filho mais velho e eu, nos despedir e agradecer pelo oxigênio respirado ali.
Mas nem tudo é adeus. Da varanda da minha casa nova, ouvindo o rio Rainha e vendo crianças de volta à escola, faço planos para o futuro com a minha mais nova melhor amiga, cujo trabalho sempre iluminou o feminismo e que agora exibo, orgulhosa, na minha lista de contatos do telefone. Quem tem tempo para Lumena quando se tem Heloísa Buarque de Hollanda?


 Rubens Menin investe €60 milhões no Douro e quer retorno de 20% ao ano
Rubens Menin investe €60 milhões no Douro e quer retorno de 20% ao ano Escalação de ator que interpreta filho de Odete Roitman recebe críticas
Escalação de ator que interpreta filho de Odete Roitman recebe críticas Bonecas Labubu movimentam bilhões e ganham versão genérica na Saara
Bonecas Labubu movimentam bilhões e ganham versão genérica na Saara Presença naqueles momentos que não têm preço
Presença naqueles momentos que não têm preço Light celebra 120 anos iluminando o Rio de Janeiro com energia
Light celebra 120 anos iluminando o Rio de Janeiro com energia