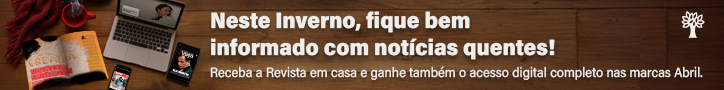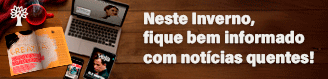“As pessoas querem arte”, diz o empresário Luiz Calainho
Com 34 anos de estrada na área de música, cultura e entretenimento, ele acredita que a chacoalhada da pandemia terminou sendo positiva para o setor

Na contramão de empresários que reclamam da evasão de investimentos no Rio, Luiz Calainho, 51, anda confiante. Com 34 anos de estrada na área de música, cultura e entretenimento, ele acredita que a chacoalhada dos tempos pandêmicos terminou sendo positiva para o setor. “Houve um aumento expressivo do público, uma vez que a cultura nos formatos digitais foi a principal válvula de escape no lockdown, inclusive para quem antes não era muito ligado às artes”, diz. “Teatros e shows estão lotados. Hoje está tudo sold out”, celebra.
Calainho fala com base na própria experiência recente. O primeiro dia do Tim Music Noites Cariocas, capitaneado por ele a partir de 24 de março, já não tem mais ingressos para o show de Gilberto Gil, com participação da ministra Margareth Menezes. O musical Mamma Mia, produzido pela Aventura, uma das onze empresas de sua holding, a L21, estreou no mês passado no Teatro Multiplan, na Barra, e prorrogou a temporada, tamanho o sucesso. Navegando nessa boa maré, ele prepara mais uma edição do Noites para novembro, está em negociações finais para reabrir ainda no primeiro semestre a casa de shows Blue Note (em novo endereço) e, a partir de junho, entra em cartaz com três musicais — uma frenética movimentação sobre a qual fala nesta entrevista a VEJA RIO.
A programação do Noites Cariocas traz, além de grandes estrelas da envergadura de Gilberto Gil, nomes novos como Duda Beat. Há uma boa renovação na música brasileira? O pop e o rock nacional têm crescido muito, tanto que no line-up privilegiamos muitos artistas que não existiam há dez anos, como a Duda, os Gilsons, a Urias, a Pabllo. O surgimento dessa nova geração também foi uma das motivações para retomarmos depois de uma década o festival, que tem como filosofia celebrar os mitos da música e ao mesmo tempo gerar essa comunhão com a turma que está chegando.
Ex-vice-presidente da Sony Music e com 34 anos de mercado, qual a principal mudança que observa na indústria fonográfica? Com o fenômeno da internet, o artista virou muito mais dono de si. Passou a ser também um influenciador digital. O veículo de comunicação mais importante do Nando Reis, por exemplo, são as redes sociais dele. Antes, o músico dependia da estratégia e da gestão das gravadoras para estar no palco. Nos dias de hoje, basta postar uma música nova nas redes, que é onde se encontram seus seguidores, seu público.
Qual o artista que mais lhe trouxe desafios? Michael Jackson, de longe o mais complexo e genial. Ele ia de figurino a coreografia, música, letra, produção e até marketing. Tinha uma capacidade criativa tsunâmica. Estive algumas vezes com ele, lancei o disco Dangerous no Brasil. Imagina o que foi gravar com Michael Jackson o clipe (da música They Don’t Care About Us) em uma comunidade do Rio, quando não havia nem UPP? De simples não teve nada.
A Aventura, sua produtora de musicais, está completando quinze anos e já levou mais de 4 milhões de pessoas ao teatro. O que explica o sucesso de uma peça do gênero? Em arte, o indivíduo que souber explicar o que faz sucesso vai poder cobrar 100 000 dólares por minuto de consultoria. Mas, claro, com a experiência identificamos alguns elementos que fazem toda a diferença, como a relevância do tema e a conexão que ele tem com a sociedade, a boa estrutura de um roteiro e a qualidade do elenco, que é essencial.
Poderia dar um exemplo? Ter o Diogo Nogueira protagonizando SamBra fez diferença, ao mesmo tempo que contar com Laila Garin, que era uma aposta, também foi um baita acerto em Elis, o Musical. Desenvolvemos no Brasil uma linguagem própria no segmento. O Brasil é atualmente o terceiro maior produtor de musicais do mundo. Isso era impensável uma década atrás.
“Não há nenhum país de primeiro mundo onde a economia criativa não esteja entre as prioridades. Por aqui, ainda não vimos um governo que mergulhou com tudo nesse campo”
Você retomou as produções com Charles Möeller e Claudio Botelho, após eles lhe acusarem de interferir no lado artístico dos espetáculos. O que aconteceu: parou de opinar ou eles é que aceitaram seus palpites? Eu sempre os considerei dois dos grandes diretores de teatro musical no mundo, mas houve um pensamento que divergiu em determinado momento. Eu defendia produções com conteúdos nacionais, eles desejavam fazer versões da Broadway. E a gente entendeu que, naquele momento, seria melhor a separação. Já se passaram mais de dez anos e voltamos a trabalhar juntos. Mamma Mia, dirigido pela dupla, é um sucesso e, em junho, eles estreiam O Jovem Frankenstein.
Afinal, o Blue Note, que fechou com pendências tributárias, de contratos de aluguel e trabalhistas, vai voltar? Sim, e será neste primeiro semestre. As pendências foram 100% resolvidas. Ainda estou fechando o lugar, não assinei ainda, mas vai voltar.
Você recebeu críticas por ter instalado no lugar do Espaço Tom Jobim a EcoVilla Ri Happy, que tem uma enorme loja de brinquedos na entrada. Errou? Criticar todo mundo critica, mas pelo menos eu fiz. A motivação para esse projeto foi redobrada depois de ser pai aos 51 anos. Em paralelo, a Aniela (Jordan), minha sócia, teve um neto. Mergulhamos nesse universo e percebemos que há pouquíssima opção de qualidade para o público infantil no Rio.
Qual foi seu maior equívoco como empreendedor? Fazer o Rio Moda Rio, em 2016, no Píer. Entrei num setor que não era exatamente o que eu dominava. Talvez eu tenha entrado com um tamanho maior do que poderia, sendo ainda iniciante na área.
Houve evasão de investidores e patrocinadores no mercado de entretenimento do Rio após a pandemia? Não, pelo contrário. Obviamente ninguém queria que a pandemia tivesse acontecido, mas, dito isso, ela gerou dois grandes benefícios para a economia criativa: houve um aumento expressivo do público e as marcas entenderam a importância de apoiar iniciativas que envolvam e emocionem as pessoas. A publicidade é fundamental, mas o conteúdo é imbatível. As empresas estão vindo e investindo no Rio como eu nunca vi, e olha que eu estou nessa há mais de três décadas.
Os números superlativos do Carnaval foram um exemplo do ânimo renovado para os negócios no setor? Sem dúvida. Todos os camarotes estavam cheios de marcas. Não há campanha publicitária que bata um show do Ney Matogrosso num negócio histórico como o Noites Cariocas. Tanto que, na primeira reunião que tivemos, já fechamos o patrocínio.
A indústria criativa é um dos motores da economia no Brasil, responsável por 2,9% do PIB. O que falta para disparar? Uma gestão política com esse objetivo, que contribua para o ambiente de negócios florescer. Não há nenhum país de primeiro mundo onde a economia criativa não esteja entre as prioridades. Por aqui, ainda não vimos um governo que mergulhou com tudo nesse campo. Poderia ser um gigantesco divisor de águas para o Brasil — e o Rio.
+ Para receber VEJA RIO em casa, clique aqui


 Escalação de ator que interpreta filho de Odete Roitman recebe críticas
Escalação de ator que interpreta filho de Odete Roitman recebe críticas Prefeitura do Rio patrocina campeonato de futebol de juízes
Prefeitura do Rio patrocina campeonato de futebol de juízes Eduardo Paes e príncipe William: figurinos “combinados” em Londres
Eduardo Paes e príncipe William: figurinos “combinados” em Londres Cartão Jaé: o que você precisa saber para não perder tempo na fila
Cartão Jaé: o que você precisa saber para não perder tempo na fila Obra da Casa de Saúde São José tira o sono de moradores do Humaitá
Obra da Casa de Saúde São José tira o sono de moradores do Humaitá